Eu havia pensado em começar esse texto com uma referência literária ou a menção de algum episódio vergonhoso do passado.
Infelizmente, a realidade tem um talento para superar a ficção. E o presente, com suas incertezas e passos em falso, nos choca mais que qualquer vexame histórico.
Como brasileiros acompanharam de perto, o prefeito do Rio de Janeiro atacou a Bienal, organizada nos dias 7 e 8, por desrespeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Insatisfeito em usar seu mega-fone virtual, enviou fiscais para recolher material suspeito e intimidar vendedores.
O alvo da guerra santa, por ironia de nomenclatura, foi a HQ A Cruzada das Crianças. De todos os quadrinhos da minha coleção particular, um dos únicos que nunca imaginei que pudesse causar uma polêmica.

Tomara que o prefeito não conheça mangás
Evidentemente, o circo midiático nada tem a ver com quadrinhos. A Cruzada das Crianças retrata um beijo gay, coisa que para uma parcela – cada vez mais entrincheirada – da população deve ser escondida de olhos sensíveis.
Impedidos de purgar o mundo daquilo que consideram asqueroso, os partidários desse moralismo tentam fingir que a realidade não existe. Limitados pelo cabresto de uma ideologia datada, querem viver a ilusão de um passado puro, tão fictício que depende da força para resistir à luz do dia.
Felizmente, uma censura capaz de apagar a realidade ao destruir suas representações – de, ao lacrar uma HQ com um saco fosco, forçar as próprias pessoas a se confinar em armários – ainda existe apenas em seus sonhos molhados. Não é o caso, porém, no livro A Polícia da Memória da escritora japonesa Yoko Ogawa.
Lançado em 1994, mas perfeitamente em casa no presente, o livro é um retrato apaixonado da importância da capacidade de criar – e um lamento comovente das consequências de perdê-la.
A Polícia da Memória

A trama conta a história de uma romancista. O lugar que chama de casa é uma ilha onde as coisas desaparecem. Não por vontade própria. De tempos em tempos, uma corporação orwelliana conhecida como a Polícia da Memória decreta o “desaparecimento” de algum objeto. Seus soldados então descem ao vilarejo, com fardas e armas à mostra, para garantir que sejam eliminados.
Em poucos instantes, uma montanha de papel havia se formado no chão. Quase tudo no quarto tinha alguma coisa a ver com o trabalho do meu pai. Documentos cobertos com a escrita familiar do meu pai e fotografias que ele havia tirado no observatório voaram das mãos dos policiais uma após a outra. Não havia dúvida de que eles estavam criando o caos, mas eles procediam em uma maneira tão precisa que davam a impressão de uma ordem cuidadosa.
Os objetos não são apenas destruídos, mas apagados da existência. No surrealismo típico da escrita de Ogawa, a Polícia da Memória apaga não apenas as coisas do mundo, mas também da mente das pessoas. Num dia, estamos regando nosso canteiro de rosas. No outro, sequer sabemos o que é uma flor.
“Não se preocupe. Não machuca, e você sequer ficará particularmente triste. Uma manhã você simplesmente acordará e terá acabado antes de você sequer se dar conta. Deitada sem se mexer, de olhos fechados e orelhas aguçadas, tentando sentir o curso do ar matinal, você sentirá que alguma coisa mudou desde a noite passada, e você saberá que perdeu alguma coisa, que alguma coisa foi desaparecida da ilha”.
Cada desaparecimento também altera o mundo de alguma forma, como se a função que cada coisa desempenhasse sumisse junto com ela. Quando barcos desaparecem, as pessoas deixam de pensar em fuga. Quando calendários desaparecem, as estações param de passar, e a ilha fica presa em um inverno sem fim. Quando romances desaparecem, as pessoas perdem a capacidade de encadear ideias.
A história de Ogawa tem poucas personagens e ainda menos nomes próprios. Sua prosa é magra e melancólica como a distopia que nos narra. Suas frases, curtas e diretas, parecem elas próprias ter sido depuradas pela Polícia da Memória.
Embora seja difícil não lê-lo como uma alegoria política, o nunca comete o erro de ser proselitista. Ogawa não insulta a inteligência de seus leitores forçando o paralelo com alguma causa do momento.
Sua Polícia da Memória não tem manifestos nem bandeiras, ideologia ou explicações. Ela simplemente existe, como uma força da natureza ou um imperativo cósmico.
“Você sabe o que acontece quando guardamos coisas que deveriam ter sumido” um policial da memória diz à protagonista num tom condescendente. Ele nunca completa o pensamento. Se existe uma razão para fazerem o que fazem, não cabe a ela, nem a nós, leitores, saber.
“Não é censura nem homofobia” disse o prefeito do Rio em uma deflexão parecida “A questão envolvendo os gibis na Bienal tem um objetivo bem claro: cumprir o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente”. Ele, também, não completa o pensamento, embora suas platitudes seguintes imitem a estrutura, se não o conteúdo, de um argumento.
Como a Polícia da Memória, ele se coloca como executor imparcial de uma Autoridade que a meros mortais não cabe questionar, apenas obedecer.
A derrota da razão
Em sua resenha para o The Guardian Madeleine Thien comentou que o romance de Ogawa pode ser lido como uma metáfora sobre o envelhecimento. O tempo, afinal, também é uma “polícia da memória”. Ele some com objetos, enfraquece nossos sentidos, leva embora pessoas que amamos – quando não até a recordação de que um dia as conhecemos.
As personagens de Ogawa, de fato, encaram a vida como idosos moribundos. Elas temem a morte que se aproxima, mas sabem que evitá-la não é uma opção. Desaparecer – e não sere lembrado – é o único futuro que contemplam.
“O que acontecerá conosco?” pergunta uma personagem após um desaparecimento chocante. “Nada” responde outra. “Esse é o ponto. É apenas mais um buraco que se abriu na ilha. No que ele é diferente dos outros”?
“Você precisa parar de se preocupar com esse tipo de coisa” ouvimos em outra cena. “Os desaparecimentos estão além do nosso controle. Eles não têm nada a ver conosco. Todos nós morreremos um dia, então qual é a diferença? Nós simplesmente precisamos deixar as coisas nas mãos do destino”.
É um sentimento que, eventualmente, chega aos lábios da própria narradora:
“Ao observar as cinzas, ocorreu-me que os desaparecimentos talvez não fossem tão importantes quanto a Polícia da Memória queria que acreditássemos. A maioria das coisas desapareceria daquela forma quando incendiadas, e elas poderiam ser sopradas ao vento com pouca consideração pelo que elas um dia poderiam ter sido.”
Para garantir que as pessoas não sintam falta do real, a Polícia da Memória faz sumir até mesmo nossa necessidade por coisas que de fato existam. O problema é que pessoas alienadas são forçadas a viver nas nuvens, a mercê da mais fraca das brisas.
“Conforme as coisas se tornam mais rasas, mais cheias de furos” uma personagem explica “nossos corações também se tornam mais rasos, mais diluídos de alguma forma.”
Escritas há mais de 20 anos, as angústias de Ogawa soam quase proféticas se considerarmos o quanto foram ecoadas nos últimos anos.
É o caso de Alan Moore, que chamou a obsessão com filmes de superherói de “catástrofe cultural”, em que adultos se refugiam em “personagens e situações […] criadas para entreter meninos de doze anos” para evitar as “complexidades esmagadores da existência moderna”.
Ou de tantas pessoas que acreditam que o avanço das fake news e fatos alternativos pode estar matando o jornalismo e a ciência – e, com eles, nossa conexão com a verdade.
Ou ainda dos que vêem na ascensão de líderes inconsequentes, que negociam com insultos e governam com tweets, o sinal de que a própria humanidade regride a uma fase infantil.

Imagem de Sébastien Thibault. Fonte
É uma ideia desconfortável, que se torna aterrorizante se pensarmos que ela pode não ser apenas paranoia.
Um estudo italiano publicado esse ano vinculo o consumo de entretenimento rasteiro à ascensão do populismo nos últimos anos. Os pesquisadores encontraram uma correlação entre áreas servidas pelas emissora Mediaset nos anos 1980 e 1990 e a ascensão de seu presidente, Silvio Berlusconi, ao estrelato da política italina.
O curioso – e pavoroso – é que eles não estão falando de propaganda política. Pelo contrário, a Mediaset veiculava muito pouco conteúdo político – ou mesmo “conteúdo” de qualquer tipo. Nos seus primeiros anos, a emissora mal contava com noticiários ou programas educativos. A esmagadora maioria de sua grade era composta de filmes, novelas e programas de variedade. Boa parte importada do estrangeiro.
Segundo os pesquisadores, foi justamente a boçalidade desse entretenimento vazio que chocou os ovos da radicalização. Acostumadas desde cedo a uma mídia que não as desafia, as pessoas se tornaram “cognitivamente e culturalmente mais rasas, e em última medida mais vulneráveis à retórica populista”.
“Até agora, eu publiquei três romances […]. Cada um deles contava a história de alguma coisa que havia sido desaparecida. Todo mundo gosta desse tipo de coisa. Mas aqui, na ilha, escrever romances é uma das profissões menos impressionantes e apreciadas que alguém pode seguir. Ninguém pode dizer que a ilha está transbordando de livros. A biblioteca, um precário prédio térreo de madeira ao lado de um jardim de rosas, tinha apenas um punhado de clientes, não importava que horas alguém a visitava, e os livros pareciam se encolher nas prateleiras, com medo de virar poeira ao mero toque. Eles serão todos, no final, jogados fora sem serem bem cuidados ou restaurados – e é por isso que a coleção nunca cresce. Mas ninguém jamais reclama.
[…]
Poucas pessoas aqui tem qualquer necessidade de romances.”
Um passo a mais que nos afasta do abismo

Muitos artistas acreditam que a arte nasceu para mudar o mundo. E invariavelmente se decepcionam quando não são levados a sério.
Por mais que denunciem os absurdos ou proponham novas ideias, a realidade sempre marcha impassível, pisoteando suas ambições com a mesma indiferença com que nega um retorno financeiro.
Suas obras, como aquelas do romance de Ogawa, amargam não lidas em bibliotecas esquecidas, encolhidas nas prateleiras com medo de virar pó.
“O que as pessoas dessa ilha conseguem criar?” Eu continuei. “Alguns tipos de legume, carros que sempre quebram, fornos pesados e impráticos, alguns animais esfaimados, cosméticos gordurosos, bebês, uma peça simples de teatro de quando em quando, livros que ninguém lê… Coisas pobres, inconstantes que jamais compensarão por todas aquelas que estão desaparecendo – e a energia que vai junto com elas. É sutil, mas parece estar acelerando, e nós temos que ter cuidado. Se continuar assim e nós não conseguirmos compensar pelas coisas que se perdem, a ilha logo mais será nada além de ausências e buracos, e quando estiver completamente oca, nós todos desapareceremos sem deixar rastro”.
Se o estudo italiano estiver certo, porém, talvez a arte não precise mudar o mundo. Talvez ela – e a imaginação a que dá voz – seja pela mera virtude de existir aquilo que nos protege de um futuro ainda pior. A cola fundamental que nos impede, como a protagonista de Ogawa, de “dissolver em pedaços” ao sermos tirados de nossos espaços seguros, “como um peixe abissal trazido rápido demais à superfície.”
Se isso, de fato, é o que nos resta, então nosso prospecto é terrível, mas também esperançoso.
Terrível, pois significa que batalhar pela imaginação é viver em um constante estado de cerco. Não importa quão altos sejam os ombros dos gigantes em que sentamos, nem quão inspiradores os monumentos que nos deixaram. A Polícia da Memória pode levá-los embora de uma hora para outra.
Esperançoso, pois significa que cada coisa que criamos acima daquelas que nos são tiradas é um passo a mais que nos afasta do abismo. Mesmo que aquilo que venhamos a criar seja tão simples quanto um painel de HQ.

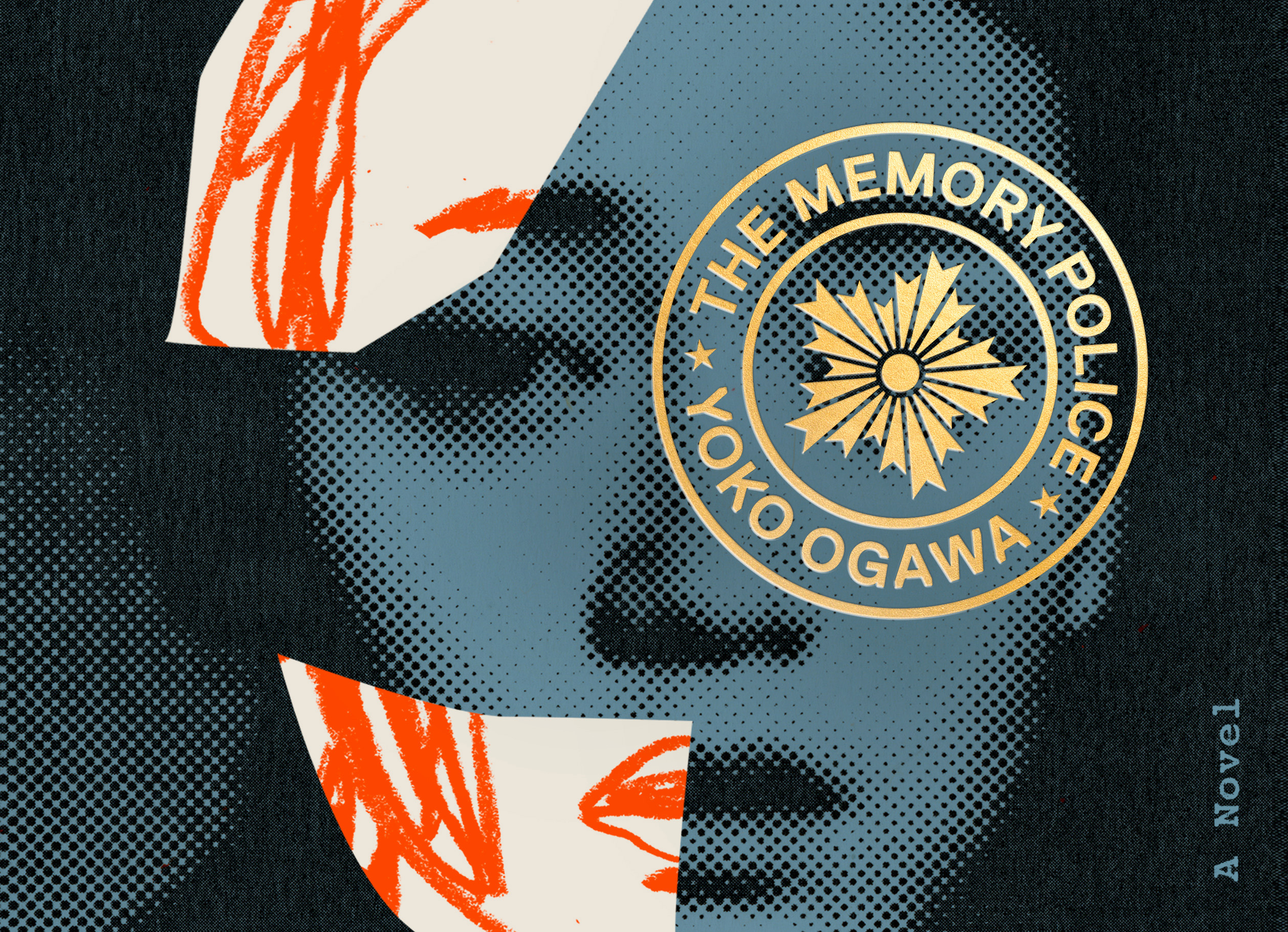

Últimos comentários