Dias atrás, visitando a cidade de Belfast pela primeira vez, trombei com um mural que chamou minha atenção:

Uma nação que mantém um olho no passado é sábia. Uma nação que mantém os dois olhos no passado é cega.
A mensagem me fez parar e refletir. Não só porque estava fundamentalmente certa. Nem porque refletia tão bem a realidade de Belfast, cidade até hoje segregada entre católicos e protestantes vinte anos depois do fim do terrorismo.
Mas porque foi o naco de sabedoria que me faltava para entender o final de A Cidade no Meio da Noite. Um dos livros mais surpreendentes, criativos e emocionalmente poderosos que li nos últimos anos. 

A história vem da pena de Charlie Jane Anders, cujo romance anterior, Todos os Pássaros no Céu, diz tudo o que você precisa saber sobre a autora.
Desafiando as fronteiras entre fantasia e ficção científica, alta literatura e ficção de gênero, o livro é uma fábula sobre a nature vs nurture – o duelo entre a “cultura” e a “natureza” humanas” – para dar inveja a qualquer filósofo.
Que Anders tenha encontrado algo novo a dizer sobre um tema quase tão antigo quanto a própria escrita é um feito em si. Que o tenha feito com bom humor e uma prosa irretocável a cimenta como uma das grandes escritoras da atualidade.
Um futuro sombrio

Representação artística de um planeta em rotação sincronizada. Fonte.
A Cidade no Meio da Noite é uma história mais complexa que seu romance de estreia – e quase tão sombria quanto seu título. Mesmo assim, ele transborda com o mesmo estilo irreverente que leitores da autora reconhecerão de pronto.
Sua trama se passa em um futuro possível em que a Terra foi exaurida, e a humanidade se lançou ao espaço em busca de uma nova casa.
O lar escolhido foi Janeiro, um planeta em rotação sincronizada com sua estrela. Tal como a nossa Lua, uma de suas metades está permanentemente virada para o sol; a outra vive uma noite eterna.
Incapazes de suportar o calor e a radiação, a humanidade se assenta no lado escuro de Janeiro, dividindo a noite com criaturas mortíferas e um clima desolador.
Xiosphant é o nome da capital dessa nova Terra. De metrópole gloriosa, ela eventualmente sucumbe à intriga e decadência. A tecnologia que trouxe humanos a Janeiro é perdida. Cada nova geração sofre uma realidade mais dura que a anterior. Discordâncias dividem os colonos, provocam conflitos e emigrações.
Quando Anders começa seu conto, esse mundo hipotético já se encontra à beira da extinção. Presos em um futuro que deve mais a Mad Max que a Star Trek, o que resta da humanidade busca formas diferentes para se preservar.
Para Xiosphant, é o respeito às tradições e à memória dos primeiros pioneiros. Sua sociedade funciona com a precisão de um relógio, seus cidadãos estrangulados por mais regras do que são capazes de lembrar.

Muralhas da “Paz” em Belfast, separando bairros católicos e protestantes. Fonte
Há uma moeda diferente para cada tipo de produto, um horário para cada atividade, um pronome para cada profissão e status social. Os costumes são rígidos, a lei implacável.
Seus bairros são segregados entre os clãs da antiga Terra, mas é proibido falar sobre isso. A cola social de Xiosphant é um forte senso de identidade cívica. Para se tornar Xiosphantiano, é preciso abandonar suas lealdades, sua raça, até mesmo suas origens.
Qualquer semelhança com os Estados Unidos, divididos entre uma ideologia individualista e coletivismos identitários, não é mera coincidência.
Tudo em Xiosphant é planejado para nos fazer cientes da passagem do tempo, dos calendários ao subir e descer das barreiras solares aos sinos que tocam por toda a cidade. Todo mundo sempre fala sobre Pontualismo, que pode ser simples – tipo, chegar em casa para o jantar antes deles soarem o último toque antes das barreiras e o começo de outro ciclo. Ou podia ser profundo: tipo, você se depara com um espelho e descobre que seu rosto mudou de forma, e de uma só vez você parece uma mulher em vez de uma criança.
Seu oposto é Argelo, uma utopia libertária tão isenta de regras que não possui sequer consenso sobre como contar as horas. Nas suas ruas, tudo é permitido, das festas mais endiabradas às crueldades mais indizíveis.
Cada cidadão é livre para assumir a sua identidade. A contrapartida é uma cidade em pé de guerra, em que nove gangues se encaram em uma guerra fria, a uma fagulha da destruição mútua.
“As pessoas de Argelo não tinham como perceber a passagem do tempo, mas sabiam uma porção de jeitos de falar sobre o arrependimento. Um milhão de frases para descrever o que poderia ter acontecido, o que você poderia ter feito. […] Os argelianos tinham transformado chorar pelo leite derramado em uma forma de arte, mas não podiam dizer com nenhuma precisão quando que cada uma dessas portas havia sido fechada.”
Qual caminho é o correto? Qual distopia é preferível? Anders nunca nos diz, e não temos motivos para acreditar que ela mesma saiba a resposta. “Dentro de uma cidade, você só pode andar em círculos” ela escreve.
Tenho certeza de que é uma sensação que os habitantes de Belfast, divididos como são entre ser católicos ou protestantes, unionistas ou separatistas, europeus ou britânicos, conhecem muito bem.
Um passado que não vai embora

Mural republicano em Belfast. Fonte
O binômio ordem e caos é um assunto caro a Anders, embora aqui seja desenvolvido de uma maneira apenas arranhada pelos seus trabalhos anteriores.
O conflito é abordado pelos olhos de duas mulheres. Ambas vivem às margens da sociedade por motivos bem diferentes. Ambas, por razões ainda mais inesperadas, ajudarão a escrever o futuro de seu mundo.
A primeira é Sophie. uma garota de Xiosphant enquadrada pela polícia por um crime que não cometeu. Condenada a vagar noite afora até morrer, ela é encontrada por nativos de Janeiro que a acolhem como um dos seus.
Tais alienígenas possuem o dom de acessar a memória daqueles que tocam – e fazê-los sentir qualquer memória que já tenham experimentado. São as criaturas empáticas por natureza, unidas por uma comunicação perfeita, imune a divisões.
Sophie vê nelas um antídoto para a mesquinhez humana. Os alienígenas, contudo, parecem ter planos mais ambiciosos. Os humanos, ansiosos para recrutá-los em suas próprias lutas, também.
Quando mais Sophie busca o compromisso, mais as coisas parecem degringolar para a violência. A conclusão do dilema, mencionada apenas no “prefácio” do livro- um depoimento atribuído a um historiador do futuro – merece ser relida após o final do romance.
A segunda protagonista é “Boca”, apelido de uma contrabandista que trafica produtos entre Xiosphant e Argelo. Boca é membro de uma etnia de nômades conhecidos como Os Cidadãos, misteriosamente trucidados antes que pudessem lhes dar um nome verdadeiro.
Boca é obcecada por sua origem e faz o possível (e o impossível) para honrar a memória de seu povo. Porém, quanto mais perambula por seu mundo condenado, mais certezas têm de que tudo o que sabe sobre ele não passa de uma mentira.
Eu fico sempre pensando que já perdi toda a minha fé, e então eu perco mais fé que eu nem sabia que eu tinha.

A escritora Charlie Jane Anders
Anders já foi considerada a nova Ursula Le Guin, e a comparação não poderia ser mais justa. Tal como a autora de A Mão Esquerda da Escuridão, sua prosa é inventiva, humana e formalmente ousada.
Os capítulos de Boca são escritos no passado em terceira pessoa, enquanto que os de Sophie, no presente em primeira. O resultado é uma narrativa atordoante, tão inóspita quanto seu planeta sem luz, que reflete o descompasso entre suas heroínas.
Sophie é uma forasteira em sua própria casa, sem um passado a que voltar. Tal como a prosa de seus capítulos, ela vive um dia por vez, fugindo de cada novo perigo para o abrigo mais próximo.
Boca é uma veterana em fim de carreira, obcecada pelo fardo de ser a última dos Cidadãos. Ela vive de remoer o passado, até entender que a tradição que lhe serve de âncora é o mesmo peso que a levará para o fundo.
Bianca havia me convencido de que o mundo podia começar todo de novo, sem as amarras e o peso de tudo o que aconteceu antes de termos nascido. Mas agora nós estamos mais velhas, e ela ainda não consegue aceitar que alguns fardos são inquebrantáveis, fundidos à pele, não importa quanto você tente transformá-los em assuntos não resolvidos. E eu estou com medo de que ela vai destruir a nós duas.
A fábula de Anders é ao mesmo tempo profunda, hilária e bela, num equilíbrio tão perfeito que chega a apavorar.
Anders diz nos agradecimentos que escrever o romance “foi como cambalear em uma escuridão total”. O livro não dá razão para duvidar. Suas frases, cada uma digna de estampar uma camiseta, são tão dolorosas que só podem ser sinceras.
Seu estilo é poético, figurativo em alguns momentos (“o medo construía uma casa dentro dela, uma que tinha janelas demais”), naturalista em outros (“Boca falou até sentir o gosto de sal e bile.”; )
“Herman sempre diz que um momento perfeito de beleza pode durar para sempre. Mas talvez alguns momentos são tão feios que eles também nunca terminam.” Ao longo das 368 páginas, lemos exemplos numerosos de ambos.
Desbravando meu caminho por A Cidade no Meio da Noite, tive dificuldade para entender sobre o que, realmente, o livro é. Uma alegoria sobre progressistas e conservadores? A vontade de seguir errando e a relutância em consertar os erros, como uma vez disse um grande pensador?
A importância de ver o tempo como um “libertador”, não uma “prisão”, como diz certa personagem? Ou de aprender a fazer as pazes com o que temos, pois “a única coisa que nunca desaparece é o passado?”
Talvez seja sobre todas essas coisas, talvez sobre nenhuma delas. “Esse é o problema das as grandes teorias sociais” diz outra de suas personagens “Elas quebram se você coloca peso demais sobre delas.”
Os habitantes de Belfast, esmagados entre um futuro sombrio e um passado que não vai embora, não poderiam dizer melhor.
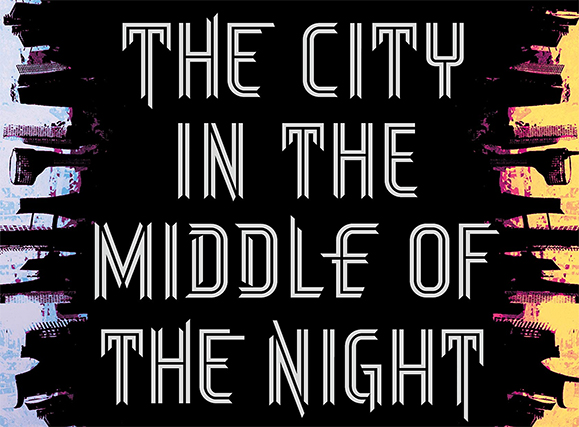

Últimos comentários