Moralidade.
Aqueles que acompanham a cena de games já devem estar acostumados a ver essa palavra em descrições de jogos. De fato, da mesma forma como Skyrim fez com que open worlds se tornassem o novo dogma, games moderninhos dos anos 2000 se ancoraram em “dilemas morais” e liberdade de escolha.
É difícil saber quem deu o primeiro tiro, mas a tendência certamente ganhou os holofotes com Star Wars: Knights of the Old Republic (2003) e com as promessas (se não a entrega) de Peter Molyneux em Fable (2004).
Obviamente, decisões morais em games existem desde muito antes. Como fãs da “velha guarda” dos RPGs isométricos sempre nos lembram, clássicos como Planescape: Torment e o primeiro Fallout entregavam dilemas complexos que continuam imbatíveis após quase 20 anos.
Não é à toa que esses RPGs quase sempre são tidos como referência por games que se vangloriam de proporcionar liberdade de escolha.
É isso que promete a Obsidian em seu futuro jogo Tyranny, ainda sem data de lançamento. Tal como seu último sucesso, Pillars of Eternity, a trupe de desenvolvedores veteranos pretende entregar mais um tributo old school aos games “cabeças” de outrora. A diferença, aqui, está na moralidade.
Em Tyranny, só podemos jogar como vilões.

A guerra entre o bem e o mal terminou, e o mal venceu. Kyros, o soberano das trevas, tornou-se o novo ditador do mundo. Como um oficial do grande tirano, sua tarefa é fazer cumprir sua vontade e garantir que os perdedores continuem devidamente submissos.

A Obsidian não é conhecida por apostar na mesmice, e parece que dessa vez eles chutaram um dos maiores vespeiros do mundo dos games. Isto porque poucas coisas são mais difíceis e têm um histórico de fracassos maior do que PC maus convincentes.
Se é verdade que “escolhas morais” se tornaram extremamente populares em jogos, também é verdade que pouquíssimos entre eles as fizeram direito. Não é preciso navegar muito tempo para se deparar com artigos sobre os exemplos mais ridículos de dilemas morais, ou mesmo apelos para que desaparecem de todo.
De fato, videogames são tão pouco sutis que, na maioria dos casos, nos colocam escolhas não entre o “bem” ou o “mal”, mas entre o leal e estúpido e a criança que grita com a mãe. Não há espaço para vilões sedutores ou heróis mal-humorados. Ou vestimos o manto de paladinos da justiça, ou amarramos latas nos rabos de cachorros.
Mesmo jogos que se gabam de um sistema “cinza” de moralidade não fogem à regra. Raros são os títulos que oferecem uma “terceira via” no estilo do primeiro The Witcher. Na maioria das vezes, tudo o que nos resta é escolher o mal menor entre duas opções cretinas.

Vocês se merecem
Há também o fato de que, ao contrário do que dizem os moralistas, “fazer o mal” não agrada à maioria das pessoas. Vários psicólogos já constataram que gamers preferem jogos em que ajam de acordo com seus corações, tratam NPCS como pessoas reais e sentem culpa por más ações cometidas por seus avatares.
Levando tudo isso em consideração, pessimistas de plantão podem dizer que a Obsidian abocanhou mais do que é capaz de engolir. Felizmente, o diretor Brian Heins e sua equipe não precisam começar do zero.
Ao longo das décadas, várias estratégias foram pensadas para tornar a maldade não só tolerável, mas divertida.

1) Dar um contexto às ações

Em A Lista de Schindler, o oficial da SS Amon Göth gosta de tomar café da manhã enquanto atira nos judeus em seu campo de concentração. Göth é mau pelo simples prazer de ser mau. Suas ações não parecem fazer sentido, e justamente por isso fazem dele um vilão tão odiado.
De fato, mais do que a maldade em si, é justamente a arbitrariedade que traz calafrios ao pescoço. Um latrocínio provoca menos comoção do que um tiroteio em uma escola. Assassinatos políticos, então, quase se passam por boa ação. Países democráticos não têm o menor pudor em erguer estátuas a quem matou em nome de uma causa.
Ao contrário da ideologia pacifista repetida nos últimos 70 anos, poucas pessoas são contra a violência. A maioria é capaz de tolerar (quando não louvar) qualquer tipo de atrocidade, desde que bem justificada.

Uma notável exceção
A intolerância é aplaudida quando feita em nome da tolerância. Guerras são ruins, mas são válidas se forem defensivas. Chacinas são perdoadas se forem uma “reação” a alguma injustiça. Atentados terroristas em nome de boas causas são um sacrifício para um bem maior. Mortes, torturas e depredações são fair play se o alvo as “merecer”. Até um serial killer ganha misericórdia se conseguir se enquadrar como “vítima do sistema.”
O ser humano tem uma enorma facilidade de processar más ações se conseguir se convencer de que, por trás delas, há um pingo de razão. Vide a imensa popularidade dos anti-heróis, que não raramente têm uma contagem de corpos digna de criminosos de guerra.

Vilões arbitrários, por outro lado, nos dão angústia. Se já é doloroso assisti-los, ser obrigado a encarná-los é um esforço que muitos consideram não valer a pena.
Aqui, poucos exemplos são melhores do que o grande clássico da arbitrariedade: Grand Theft Auto. Em GTA IV, o protagonista Niko Bellic é um imigrante empurrado para uma versão deturpada do Sonho Americano. Tal como Tony Montana em Scarface, ele é uma personagem cativante, que provavelmente teria um futuro diferente caso tivesse vivido em outras circunstâncias.
GTA V, por outro lado, nos introduz a um trio de criminosos que parece fazer o mal apenas por fazer. Mesmo louvado pelos seus aspectos técnicos, o jogo causou desconforto pelo excesso de maldade gratuita.
Os exemplos não param por aí. No Russian, a polêmica missão de Call of Duty: Modern Warfare 2 que envolve um massacre de civis em um aeroporto, foi lançada com a opção para “pulá-la” sem qualquer prejuízo. E Hatred, um simulador de chacina isométrico que quase foi banido do Steam, se provou um fracasso de público e crítica.
Esse tipo de violência descerebrada é uma ótima forma de extravasar, mas dificilmente mantem nossa atenção por muito tempo. Como diz Brian Heins, diretor do Tyranny:
Eu fico desapontado quando jogo games em que a opção “má” exige que eu aja como um psicopata, assassinando todo mundo na minha frente. Às vezes isto é legal, mas é muito restritivo quando é a única opção. Especialmente quando o jogo me pune por tomar estas decisões.
Dar justificativas aos vilões é uma ótima forma de apaziguar a consciência – e, de quebra, de construir histórias mais complexas. Porém, ela não é a única. Apoiar barbaridades em nome de uma causa funciona no papel. Na prática, interpretar este tipo de vilão cedo ou tarde pode abalar o espírito de qualquer um.
É o caso de uma ex-colega minha, que tinha crises de choro durante os ensaios de uma peça em que interpretava uma vilã maquiavélica. Vestir uma máscara que não nos representa, por mais curto que seja, nunca é agradável. Para conseguirmos nos divertir dessa maneira, é necessário recorrer a artifícios.
2) Desengajamento moral

Segundo o ex-terrorista britânico Maajid Nawaz, para dialogar com aqueles que odiamos é necessário “humanizá-los”. Deixar de vê-los apenas como um panfleto de suas opiniões e entender que são pessoas de carne e osso, tal como nós.
Na ficção – e, em especial, nos videogames – geralmente se segue o caminho contrário quando se busca enaltecer a vilania. É muito mais fácil eliminar hordas de adversários quando pensamos neles apenas como pixels na tela ou números em uma lista de baixas.
Algumas táticas são mais velhas do que andar para trás. Remover rostos (ou cobri-los com máscaras ou bandanas). Substituir nomes próprios por rótulos. Implementar visuais sugestivos, de maneira que aliados e inimigos possam ser identificados à distância.

É o caso dos nazistas nos primeiros Medal of Honor, dos guardas em Skyrim com seus elmos e vozes idênticas, dos darkspawn em Dragon Age e dos orcs em boa parte dos games de fantasia. É muito mais fácil assassinar stormtroopers sem nome do que indivíduos com amigos e família esperando seu retorno.

Alguns especialistas chamam esse processo de desengajamento moral, e ele está na raiz do sucesso de GTA, Postal e similares. Um jogador é plenamente capaz de se divertir à beça atropelando pedestres e metralhando helicópteros. Desde que, antes, consiga se convencer de que aquele não é ele, e que aquelas pessoas não existem de verdade.
Em grande parte, o desengajamento moral é estimulado pelos próprios desenvolvedores. Em alguns casos, no entanto, ele pode surgir naturalmente, mesmo nos jogos mais sérios. Para isso, é necessário que o gamer consiga
3) Ligar o modo automático

Acho que não é um exagero dizer que ninguém curte o mesmo game da mesma forma em playthroughs repetidas. Um primeiro contato pode ser uma viagem de descoberta; o décimo nono, um esforço complecionista para platinar o jogo e encontrar easter eggs.
Não é preciso dizer que nossa experiência afeta e muito nosso processo de escolha. Muitos gamers preferem curtir um jogo “naturalmente”, da maneira que lhes parece mais certa, para em playthroughs consecutivas usar guias e explorar opções diferentes. O que era um dilema moral da primeira vez deixa de ser na segunda, terceira ou quarta.

Nunca mais perca alguém na Suicide Mission
Para alguns especialistas, isso se dá porque temos duas formas diferentes de processar nossas ações. Uma é racional, meticulosa, atenta para todos os detalhes. Outra é intuitiva, direta-ao-ponto, focada em padrões e repetições.
Quando jogamos um jogo pela primeira vez, estamos atentos a tudo: o ambiente, as linhas de diálogo, cada fresta do mapa. Se às vezes perdemos o sono com decisões tomadas em um game é porque não fazemos ideia de quão definitivas elas serão para o desenlace da história.

Por outro lado, quando já estamos acostumados com o jogo, o cérebro trabalha no automático. Não há razão para poupar um NPC se sabemos que não há consequências, ou para se esforçar no bom-mocismo se, no final, os ganhos são muito pequenos.
Ao perambular por Skyrim, um jogador pode querer proteger o mundo dos daedras maléficos. Na 180ª hora de jogo, porém, é muito provável que não tenha escrúpulos para sacrificar um aliado para completar a quest da Boethiah.
A motivação para praticar o bem eventualmente some, e sacrificar um NPC genérico com 4 linhas de diálogo pré-gravadas se torna um preço aceitável para o achievement Oblivion Walker e uma das melhores armaduras do jogo.
4) Evitar “decisões importantes”

Isso pode soar um sacrilégio, já que games funcionam sob o lema de que “mais é mais”, e “decisões importantes” se tornou uma das buzzwords mais comuns depois de “épico” e “cinemático”.
No entanto, como estudiosos de ética estão cansados de lembrar, responsabilidade pessoal está ligada ao nosso poder de afetar o mundo à nossa volta. Quanto menos poder temos, mais fácil se torna libertar nosso Mr. Evil interior.
Quando nossas ações mudam o destino do universo, um ato de maldade é um crime sem paralelos. Quando mal somos notados por NPCs, “bem” e “mal” se torna uma questão de gosto.

Reduzir o peso de decisões é um caminho que desenvolvedores preguiçosos muitas vezes seguem para não precisarem encarar as questões difíceis em torno da maldade. E, de quebra, passarem uma ilusão de escolha sem se preocupar em construir uma história complexa e reativa.
Se essa solução é o beijo da morte para jogos narrativos, ela é ao mesmo tempo o que faz das sandboxes tão divertidas. Em muitos casos, NPCs são gerados proceduralmente e são “repostos” caso o pior aconteça. Por mais cidadãos que desapareçam, explodam ou sejam amarrados na linha do trem, a vida sempre voltará ao normal.

Nada ilustra melhor esse ponto do que a maneira como RPGs lidam com o furto. Com raríssimas exceções, NPCs não fazem uso de nenhum objeto de cena. Eles estão lá única e exclusivamente para serem tomados pelo jogador.
Em alguns (muitos) casos, os objetos sequer têm um vínculo funcional com seu dono ou com o ambiente em que é encontrado. Não há motivo algum para se sentir culpado ao roubar uma casa quando tudo o que seu morador possui é uma espada de fogo + 2 no armário do banheiro.
Curiosamente, é isso mesmo que a Obsidian pretende evitar. Como Brian Heins nos diz no primeiro Dev Diary:
Nós não queremos que vocês sejam a “garota de recados” do Mal. Se vocês fossem só um subordinado ou um lacaio, sua habilidade para influenciar ou mudar o mundo seria restrita, e sua responsabilidade pelo fato de que o mal venceu diminuiria.
Isso exigiu que nós construíssemos nossas quests e conteúdo para reforçar esse ponto a cada momento. Nós não queríamos que vocês fossem abordados por NPCs aleatórios pedindo ajuda para resgatar seu gato da árvore. Suas escolhas moldam nações.
O diretor de Tyranny nos lembra de um ponto importante: quanto mais buscamos artifícios para deglutir a maldade, mais um jogo se aproxima do estereótipo de vilão bocó que marca presença em CRPGs desde sempre.
É uma verdadeira corda bamba, em cima de dois precipícios bastante fundos. A renascença do RPG isométrico já segue há bons anos, e não há falta de opções para o gamer saudoso da complexidade dos velhos tempos. Torment: Tides of Numenera, afinal de contas, já está em early access. Tyranny precisará impressionar, ou ganhará o epitáfio de primo mal sucedido de Pillars of Eternity.
Por outro lado, o sucesso de um RPG é medido pela empatia com suas personagens. Se a Obsidian não conseguir criar um protagonista com que possamos nos reconhecer, Tyranny pode sucumbir à própria ambição.
Muito pouco material já foi lançado sobre o jogo. O Dev Diary, entretanto, já nos dá uma certeza: os criadores de Pillars of Eternity não estão interessados em tomar atalhos. Se a aposta vingará é algo que descobriremos ao longo do ano. E ao qual estarei torcendo com todo o afinco.





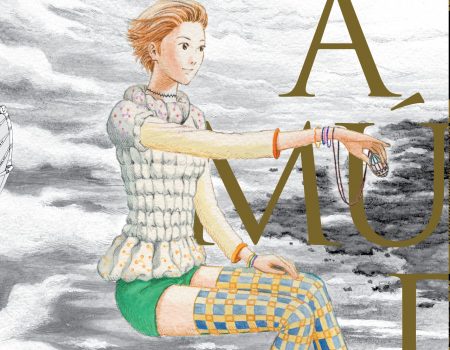








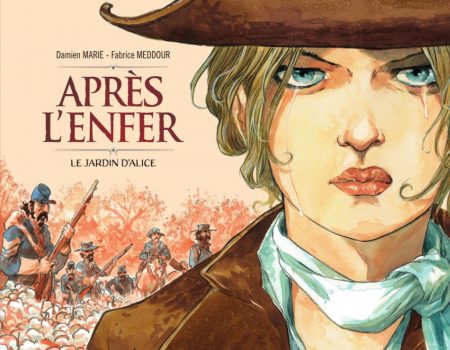




















Comentários
Pingback: Blogosfera Otaku BR – Indicação de Artigos #3 | "É Só Um Desenho"