A guerra nunca muda… Mas outras coisas sim, e como. Em uma frase, este é o apelo do gênero pós-apocalíptico, hypado na E3 desse ano com o anúncio de uma de suas franquias mais populares. A reação online a Fallout 4 não deixa dúvidas de que este será um dos grandes hits do fim do ano.
De onde, porém, vem todo esse entusiasmo? É consequência apenas do sucesso da série, nas mãos primeiro da Interplay, depois da Bethesda (e brevemente da Obsidian)? Acredito que não. Tal como a fantasia medieval e a Segunda Guerra, a Terra pós-apocalíptica é um cenário sedutor como poucos outros. Com uma tradição literária e cinematográfica respeitável, o gênero caiu como uma luva nos RPGs, aos quais trouxe uma vibe completamente nova.
O futuro que nunca veio
A escolha do cenário é uma das decisões mais básicas para o criador de ficção. Aqueles que desejam fazer games realistas encontram logo de cara um problema considerável: precisam representar com fidelidade o cenário do qual pretendem tratar. Isso significa semanas de pesquisa, muita leitura, consultoria profissional e malícia para evitar questões espinhosas. O mundo real é sério, e muitos de seus episódios mais interessantes provocam debates acalorados. Não fosse o suficiente, o produto final de um jogo como esse dificilmente será tão vibrante quanto um mundinho de faz-de-conta. Gamers já têm uma vida inteira para acordar cedo, estudar para a prova, declarar impostos e ler notícias terríveis sobre a invasão do país X ou Y. Por que passar o tempo de lazer com a mesma tortura?
A fantasia resolve alguns desses pepinos, mas arruma outros. Para os fãs de um enredo mais “cabeça”, o estilo – em especial sua versão mais “pomposa”, a high fantasy – é bastante insosso. A Bioware pode dar a severidade que quiser às suas tramas; um elfo com roupas coloridas ou um banqueiro alienígena atarracado jamais provocarão a mesma reação de um veterano da Guerra da Iuguslávia ou um refugiado etíope morto de fome. A “suspensão de descrença” age aqui com força total. O público sabe que vai ouvir sobre fadas e dragões e pega o controle já pensando em bolas de fogo e armas laser. E ai do jogo se não entregar.

Casey Hudson aprendeu isso do jeito mais difícil
Ficções pós-apocalípticas, no entanto, oferecem um meio termo. De um lado, elas podem – e até devem – ter um pé no mundo real. A fidelidade não é necessária, como Miyazaki tão bem mostrou quarenta anos atrás na sua obra prima dos quadrinhos, Nausicaa do Vale do Vento. Porém, é um toque a mais que pode enriquecer um cenário, sobretudo se bem feito. Do outro lado, seu “retro-futurismo” – o retrato de um futuro que nunca aconteceu, tal como imaginado pelas pessoas que o esperavam – dá aos desenvolvedores carta branca para deixar a criatividade rolar solta e carregar nas tintas no que acham mais legal, seja o jetpack de uma power armor ou um tanque-escorpião.

A ficção pós-apocalíptica tem ainda outro atrativo. Poucas coisas dizem mais sobre a nossa cultura do que vê-la desaparecer. O que seria das pessoas sem as leis para pô-las nos trilhos? Sem remédios, medicina ou tecnologias de transporte? Sem os confortos mais simples de nosso dia a dia? Seríamos capazes de viver na penúria ou (como dizem os críticos do “consumismo”) somos, no final, aquilo que temos?
Imaginar um mundo em que a fartura do nosso cotidiano não existe nos obriga a pensar sobre ela e em por que ela é tão importante. Às vezes, a resposta pode nos suspreender. Em The Last of Us, quando Ellie pergunta a Joel o que ele mais sente falta do mundo antigo, ele responde “o café”. E o momento mais tocante do jogo, para 11 em cada 10 jogadores, é a cena em que a dupla encontra uma girafa. Creio que se eu perguntasse aos leitores que coisas eles salvariam no caso de um apocalipse café e zoológicos não estariam no topo da lista. São coisas aparentemente irrelevantes, mas mesmo elas deixam um vazio quando desaparecem. E, num mundo de subsistência, estão entre as primeiras a sumir.
Se tudo isso não fosse o bastante, há ainda outra razão para a popularidade do gênero. Por mais que critiquemos nossos avós por repetirem quão maravilhoso era o “seu tempo”, nós somos muito piores. Poucas gerações são mais saudosas de sua juventude do que a galera que passou a infância e adolescência nos anos 1990. Os exemplos são quase infinitos: a febre dos amiibos e de outros merchans da Nintendo (destaque para o MacLanche feliz do Mario que esgotou nos primeiros dias), a devoção ao SNES e ao Megadrive, os reboots de Sailor Moon e Dragon Ball Z, o boom de games retrô e de pixel art no mercado indie e outras coisas de que falei aqui. Diante da tarefa de recriar nosso mundo depois do apocalipse, poucos desenvolvedores resistem à tentação de pensar no que aconteceria com essa nostalgia depois das bombas nucleares.
Wasteland 2 levou isso ao extremo, a ponto de incluir o disquete do game original de 1986 como uma relíquia encontrada no jogo. Outra quest leva o jogador ao encontro de um antiquário de videogames, que pede sua ajuda para completar sua coleção. Ele deseja colocar suas mãos naquele que acredita ter sido o maior console de todos os tempos: O CD-i, com seus incríveis 1MB de memória RAM. A piada, para aqueles que nunca o conheceram in loco, é que o CD-i está entre os maiores flops da história dos games. Nada como um apocalipse nuclear para melhorar uma reputação falida.
Não é à toa que fãs de Fallout 4 piraram na E3 ao descobrirem que poderão jogador Donkey Kong e Missile Command em seu Pip-Boy, o computador de mão característico da série. Ainda mais depois da Bethesda anunciar que um Pip-Boy de verdade acompanharia a edição de colecionador do jogo.

O mundo real nunca é tão pomposo quanto a ficção. Talvez, no final das contas, quando “O Fim” realmente chegar, estaremos preocupados com coisas muito mais mundanas. Talvez olhemos para nossos consoles e nossa biblioteca de mangás e pensemos: “quando eu estiver caçando deathclaws dentro da minha power armor, eu terei espaço no meu abrigo para isso?”





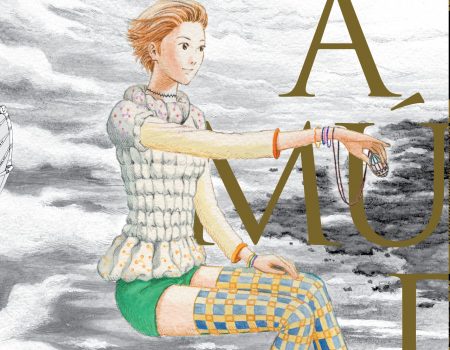








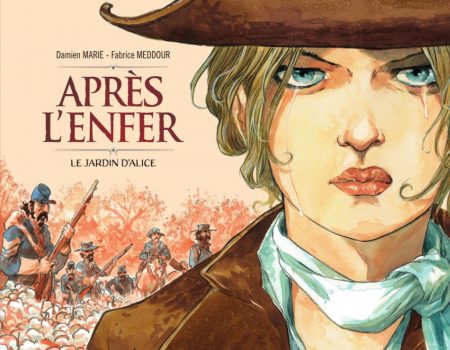






















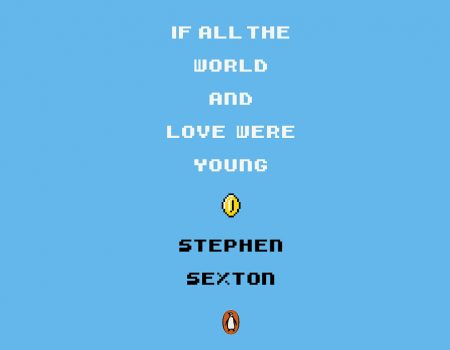
Comentários
Pingback: Os museus, o apocalipse e a fé de ‘Fallout’ na humanidade | finisgeekis