Para o júbilo dos fãs desesperados, a premiada série Mad Men finalmente voltou para a última parte de sua última temporada. O drama de época é exemplo de tudo o que há de mais certo na geração atual da TV americana, e reflete o julgamento daqueles que consideram nossa década como a era de ouro da telinha. Mais interessante, no entanto, é o que a série faz de inesperado, para não dizer inconcebível.
 Para além do nonsense, números musicais e cortadores de grama, o verdadeiro milagre é o que faz com a época que retrata – mais ainda, com a forma com que renova a proposta dos dramas de época. Histórias ambientadas no passado são complicadas, pois sempre queremos tirar muito mais dele do que ele nos oferece. Como já disse antes, as obras pendem ou para a malhação de Judas ou para uma idealização romântica. Em ambos os casos, são mais uma crítica aos nossos tempos (ou ao que eles deveriam ser) do que qualquer outra coisa.
Para além do nonsense, números musicais e cortadores de grama, o verdadeiro milagre é o que faz com a época que retrata – mais ainda, com a forma com que renova a proposta dos dramas de época. Histórias ambientadas no passado são complicadas, pois sempre queremos tirar muito mais dele do que ele nos oferece. Como já disse antes, as obras pendem ou para a malhação de Judas ou para uma idealização romântica. Em ambos os casos, são mais uma crítica aos nossos tempos (ou ao que eles deveriam ser) do que qualquer outra coisa.
Nesse sentido, Mad Men faz algo que poucos tiveram capacidade (ou coragem) para tentar: ele deixa o passado falar por contra própria.
Ao leitor mais rigoroso: acalme-se. É óbvio que Mad Men é uma série contemporânea e, como tal, reflete uma visão contemporânea dos anos 1960 e 1970. É óbvio que nada é totalmente “puro” ou “neutro”. A diferença está na forma como o seriado trabalha com o que tem em mãos. Se outras séries, filmes e livros enviam ao passado um protagonista atual em tudo além do vestuário, a criação de Matthew Wiener nos entrega um grupo de personagens tão estranhamente démodés quanto os penteados rebuscados e o Cadillac 1962. A Madison Avenue de 50 anos atrás é um mundo estranho, esfumaçado pelas baforadas de uma legião de fumantes compulsivos, vestidos estapafúrdios e tratamento abusivo de funcionários. Mas seus habitantes não ditam a ladainha de como tudo é errado e defasado. Eles são, afinal de contas, tão errados e defasados como o mundo que os cerca.
 Don Draper nos brinda com um whisky a cada 15 minutos e uma amante descartável a cada 30. Sua carreira foi construída sobre um misto de charme, fraude, adultério e exploração de seus subordinados. Roger Sterling é um panfleto ambulante do que há de mais caricato em sua época, de uma performance em blackface no seu casamento ao uso de LSD. Joan, uma mulher sob a sola de homens poderosos, poderia oferecer um contraste, mas engole todos os seus sapos. Engravidada pelo chefe – que não deseja assumir a criança – ela a cria sem pestanejar como se fosse de seu marido. Ao ser obrigada a prestar favores sexuais a um cliente, manipula a oportunidade para se tornar sócia da agência. Tal como os outros, ela pertence a um outro tempo, regido por outras regras. E ela conhece todas.
Don Draper nos brinda com um whisky a cada 15 minutos e uma amante descartável a cada 30. Sua carreira foi construída sobre um misto de charme, fraude, adultério e exploração de seus subordinados. Roger Sterling é um panfleto ambulante do que há de mais caricato em sua época, de uma performance em blackface no seu casamento ao uso de LSD. Joan, uma mulher sob a sola de homens poderosos, poderia oferecer um contraste, mas engole todos os seus sapos. Engravidada pelo chefe – que não deseja assumir a criança – ela a cria sem pestanejar como se fosse de seu marido. Ao ser obrigada a prestar favores sexuais a um cliente, manipula a oportunidade para se tornar sócia da agência. Tal como os outros, ela pertence a um outro tempo, regido por outras regras. E ela conhece todas.
A maior pergunta talvez não seja por que Mad Men optou por sua linha, mas como uma série dessas pôde ser feita nos dias de hoje. Se há algo que marca nossa geração mais do que a adoração da tecnologia e do imperativo de “progresso” é nosso enorme pavor em relação ao que veio antes. Somos cada vez mais da opinião que qualquer ideia além das nossas deve ficar enterrada no passado, ou então solta no mundo com uma placa no pescoço e um supervisor para nos afastar do “perigo”. Como então, pôde um programa em que crianças bebem vodka e dirigem, em que publicitários dopam seus funcionários e subornam clientes com prostitutas, ganhar a televisão?
Brett Martin tem um palpite. Para o autor, a nova “era de ouro” da TV americana tem um ponto em comum. De Don Draper a Walter White, de Dexter a Tony Soprano, seus dramas nos mostram personagens incorretos, problemáticos, complicados e, por isso mesmo, humanos. O “herói” televisivo do século XXI – se é que nós podemos chamá-lo assim – é atormentado, cruel e impotente diante de uma realidade absurda e sádica. Se antes sentávamos na poltrona na sala em busca de nosso final feliz diário, os seriados de hoje em dia nos oferecem emoções diferentes – e muito mais cínicas. Vivemos num mundo cão, mas podemos nos divertir com ele.
Mad Men nos mostra que, além da excitação com o novo e o medo do passado, nossa geração tem um fascínio com o disfuncional. Foi-se o tempo da lição de moral – quiçá ele nunca de fato tenha existido, ao menos não como o imaginamos. Como John Milton nos provou quatro séculos atrás, a perfeição não convence ninguém; são justamente os erros que fazem um indivíduo. Quanto mais abundantes e mais errados, mais nos reconhecemos.
Infelizmente, nossos encontros com a Sterling, Cooper & Partners estão próximo do fim, mas há algo que nós podemos aprender com eles. Role models são estátuas de cera. Canalhas são pessoas reais.





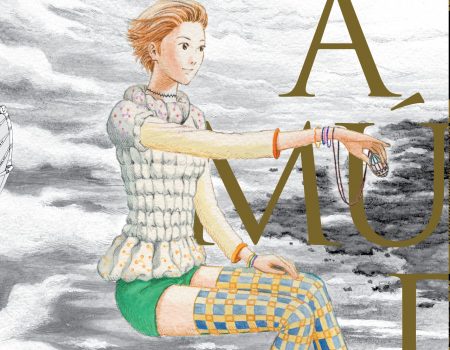








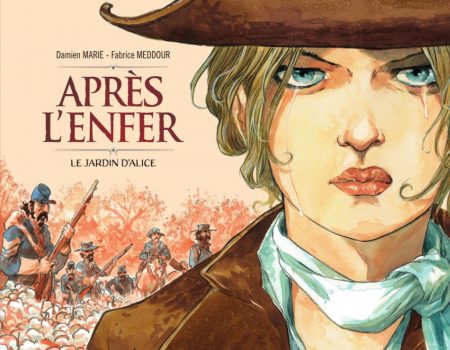


















Comentários
Pingback: Da Escócia a Temeria | finisgeekis