Se eu tivesse que apostar que uma série britânica underground como Black Mirror um dia ganharia os aplausos da multidão, perderia meu dinheiro.
É verdade que a obra, que está agora em sua terceira temporada, sempre deu sinais de que brilharia. Gigantes do entretenimento como Stephen King e Robert Downey Jr. se disseram seus fãs. Seu especial de natal contou com a participação de Jon Hamm, o Don Draper de Mad Men.
Desde o princípio, Black Mirror foi uma excelente ideia à espera de alguém que a comprasse. Para sua sorte, a honra veio de ninguém menos que do Netflix.
Aos que não a conhecem, a série é uma coleção de curtas sobre a relação do homem com a tecnologia. Apesar de referências a uma cronologia comum, cada episódio é independente, dirigido por um diretor diferente, com seu próprio elenco e enredo.
Às vezes sarcásticos, quase sempre distópicos, raramente otimistas, seus contos são ficções especulativas ambientadas “15 minutos no futuro”: distantes a ponto de serem diferentes do nosso mundo, mas próximas o suficiente para nos fazer temer suas consequências.
Em The Entire History of You, por exemplo, um dispositivo permite que as pessoas gravem e assistam a todas as suas memórias. O que parece uma bênção logo se mostra uma maldição. Como as personagens de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, seu protagonista aprende que num mundo sem esquecimento nossos erros nos assombrarão para sempre.
Em White Christmas, por sua vez, pessoas podem ser “bloqueadas” na vida real como no Facebook. Uma vez que isso aconteça, não podem ser vistas ou ouvidas por aqueles que o bloquearam. Criminosos são punidos com um “bloqueio universal”, que os impede de interagir com os outros pelo resto de suas vidas.

Em Nosedive, estreia da nova temporada, pessoas avaliam umas às outras no estilo do Uber. Tal como no aplicativo de caronas, uma nota muito baixa implica na perda de benefícios – neste caso, direitos civis.
O lado negro da tecnologia
O “espelho negro” que dá nome à série é uma referência às telas de smartphones. Por um lado, são uma fixação que parecemos não ser capazes de largar. Por outro, como todo espelho, nos mostram o reflexo (distorcido) de quem realmente somos.

Quem revira os olhos com imprecações contra os “males da modernidade” pode respirar aliviado. Black Mirror não é hard sci fi. Suas “profecias” tecnológicas beiram o fantasioso. Seu worldbuilding, até pela proximidade com o presente, é mínimo.
Um mundo inteiro jamais poderia ser sustentado apenas por humanos gerando energia em bicicletas ergométricas, como sugere Fitfteen Million Merits. Já Hated in the Nation, em que abelhas robóticas caçam pessoas com o poder do Twitter, parece um argumento de filme B.

Cena de “Fifteen Million Merits”
Criticar a série por causa disso, obviamente, é deixar de lado o mais importante. Black Mirror não é uma “profecia” tecnológica, mas uma redução ao absurdo, uma suposição do que aconteceria se os problemas da vida contemporânea fossem alargados ao extremo.
Seus contos são tão irreais quanto os pesadelos em que ficamos pelados em público, ou em que descobrimos que nossos pais são impostores. Porém, tal como estes pesadelos, é justamente por tocar em medos tão viscerais que a série nos sacode emocionalmente.
Como disse seu criador, Charlie Brooker, a ideia não foi escrever uma ode contra a tecnologia, mas avisar sobre o que ela pode nos trazer.
Brooker é otimista, ou apenas muito ingênuo. Pois, como outros já apontaram, a distopia de Black Mirror está longe de ser um palpite. Os terrores da tecnologia que a série nos apresenta são problemas com que convivemos há muito tempo.
E por “muito”, não penso em anos, mas em séculos.
A tirania da comunidade

Revoltados de plantão passam uma boa parte de seu tempo defendendo a liberdade de pensamento, a privacidade e o princípio da ampla defesa. Fazem bem. Essas garantias, afinal de contas, são os pilares da sociedade que conhecemos.
O que talvez os surpreenda é que o statu quo que gostam de proteger é muito mais novo do que imaginam.
Até cerca de 200 anos atrás (em alguns lugares, por muito mais tempo), pessoas viviam em comunidades minúsculas, em que todos se conheciam. O problema, como notaram pesquisadores, é que sociedades fechadas não são apenas diferentes. Elas também funcionam de uma outra forma.
Como a informação circula pouco, manter segredo se torna difícil. Fofoca é um esporte popular. O que cada um faz, com quem cada um se relaciona e mesmo o que cada um pensa logo vira assunto público.
Como a lei é fraca e o tribalismo forte, os conflitos são resolvidos entre as pessoas. O que a comunidade achar errado, nem que apenas uma desfeita após a missa de domingo, é suficiente para arruinar uma pessoa. Não importa se a punição é desumana: enquanto for o desejo da maioria, ela será merecida.

Em uma sociedade onde a vontade da turba é a que manda, é questão de tempo até que as pessoas comecem a viver pelas aparências. Afinal, é justamente por elas que serão julgadas – e condenadas. Máscaras se tornam tão importantes quanto rostos.
Daí que, para manter a “ordem” e “fazer o que é justo”, não basta exigir o troco. É preciso assassinar suas reputações, humilhá-las, desumanizá-las.


É a filosofia de A Letra Escarlate, em que uma adúltera é obrigada a vestir uma marca para que os demais reconheçam seu pecado de longe.
É o que, entre 1692 e 1693, levou 25 pessoas à morte em Salém, Massachusetts, vítimas da fofoca de um grupo de garotas. É o que fazia com que, na Versailles do Ancien Régime, brigas, rivalidades políticas e até mesmo duelos fossem provocados pelos mais fúteis dos motivos.


Foi apenas com a explosão populacional e o surgimento das grandes metrópoles que outro caminho começou a se abrir. Na nova sociedade urbanizada, fria e superpovoada, pessoas se tornam estranhas. A cidade é o império do anônimo.
Na multidão, o indivíduo não precisava mais ser escravo de sua comunidade. Podia ir aonde desejasse, relacionar-se com quem quisesse, experimentar o que lhe desse na telha.
Se essa utopia parece fresca, é porque foi apropriada pela retórica da globalização e da revolução digital. O cidadão internacional não deve mais obediência à pátria: o mundo é seu playground. Comunidades virtuais, de fandoms a praticantes de fetiches sexuais, permitem que as pessoas escolham suas tribos – e se “desconectem” sempre que quiserem.
Que Black Mirror nos choque tanto é prova de que esse sonho ainda segue firme. Mesmo que a realidade, cada vez mais, conte outra história:

Na sanha de nos aterrorizar com o futuro, Black Mirror nos apresenta um mundo que a humanidade conhece muito bem. De uma utopia infinita e interconectada, a sociedade ameaça se tornar tão fechada, provinciana e inclemente quanto foi durante a maior parte da história.
Infelizmente para os “pessimistas” de Black Mirror, virar essa mesa é uma tarefa muito mais complicada do que nos livrarmos dos últimos gadgets.
O que desejamos apagar

À primeira vista, é fácil supor que a série de Brooker seja uma fábula sobre os excessos da tecnologia. Desafetos da Apple, compartilhadores de correntes nostálgicas no Facebook e metidos a politizados em luta contra a “alienação” encontraram na série um prato cheio para esbanjarem as próprias certezas.
Porém, há pouquíssimo nessa distopia futurista que não seja superado pelo que a era pré-digital, sem pompa ou circunstância, era capaz de fazer.
A “likecracia” de Nosedive pode parecer uma histeria tirânica. Porém, é inacreditavelmente mais branda do que o higienismo do século XIX, quando presídios inteiros eram construídos para prender e torturar pessoas desfavorecidas, deslocadas ou inconvenientes.

- Antiga prisão de Cork. No final do século XIX, uma mulher chegou a ser presa por “bebedeira” e “linguagem obscena”.
Já em Men Against Fire, soldados recebem implantes cibernéticos que fazem com que enxerguem seus inimigos como monstros. Assim, podem atirar sem sofrer com o dilema moral em matar outras pessoas.
Com o jargão típico da geração 11/09, uma colunista do The Mirror disse que o episódio fala sobre “as consequências filosóficas da guerra de alta tecnologia”.
Mas Nathan Bedford Forrest, oficial confederado e primeiro grão-mago da KKK, não precisou de implantes para chacinar prisioneiros negros no Massacre do Forte Pillow. Nem soldados japoneses para sequestrar e baionetar bebês durante a invasão da China (CUIDADO, NSFW).
Será que essas guerras eram menos “filosóficas” que as nossas?
Ironicamente, se existe algo próximo da guerra “humanizada” que o episódio parece defender, ela está justamente na matança “futurista” que tanto critica. Entre o desenvolvimento de tecnologias para reduzir danos colaterais e uma opinião pública horrorizada como nunca antes com a violência, o combate se torna cada dia menos letal.

Resultado de ‘Gyokusai’ ou Carga Banzai, 1942
As visões de progresso pregam que a humanidade pode sempre transcender suas barreiras. Nada está escrito na pedra. O amanhã será melhor que o ontem. Nenhum vício é inconsertável, e nenhuma virtude inatingível. Com determinação suficiente, é possível ultrapassar qualquer barreira: a política, a linguagem, o preconceito e mesmo a biologia.
O grande pavor dessas visões não é pensar que suas boas intenções possam edificar uma distopia. É imaginar que, não importa o que façamos, algumas coisas se recusarão a mudar.
É descobrir que nossas piores depravidades vão nos acompanhar até o final dos tempos. E que há, no seio de cada um, uma natureza humana que engenharia social nenhuma será capaz de apagar.





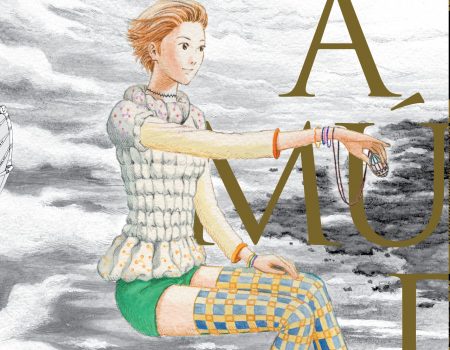








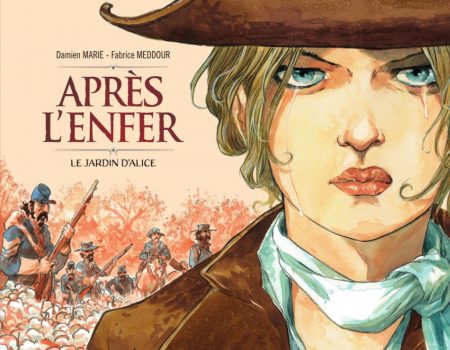





















Comentários