Entre a nova (e violenta) adaptação de Demolidor, os ecos de Frank Miller em Batman vs. Superman, o status de “lenda cult” de Christopher Nolan e a vinda da Guerra Civil para os cinemas, tudo aponta para a mesma coisa: o anti-herói está na moda. E pretende ficar.
Por si só, isso não é uma surpresa. Seja na literatura, nos games ou nas séries de TV, o velho confronto do “bem” versus o “mal” parece ter sido substituído por algo mais sofisticado – e muito mais sanguinolento.

Roteiristas, quadrinistas e desenvolvedores descobriram (como John Milton já havia feito muito tempo atrás) que personagens com defeitos e personalidades complexas são muito mais cativantes. Afinal de contas, ninguém é perfeito. E nada enriquece mais uma obra de arte do que heróis verossímeis.
Mesmo assim, seria um erro pensar que esses protagonistas tortos, interessantes e (pasmem) carismáticos simplesmente caíram do céu. Nos quadrinhos americanos, em especial, eles foram trazidos por uma geração específica, tumultuada e muitíssimo criativa.
Seguem, abaixo, três das principais “mães” dos anti-heróis das HQs.
1- A decepção com a política
A coisa que não podemos esquecer sobre quadrinhos de super-heróis é que sua popularidade veio nos anos 1940, a década da Segunda Guerra Mundial, do ufanismo e da maior radicalização política já vista na história.
Para além de uma luta do “bem” contra o “mal”, a mensagem desses quadrinhos era a de que as coisas se resolviam dentro do sistema. Não era apenas o bom-mocismo que estava em jogo, mas todo um projeto de governo, sociedade e bons costumes.
Super-heróis até podiam ser cruéis e implacáveis, desde que obedecendo às ordens “de cima” ou, no mínimo, atendendo ao espírito de seu tempo.

Ninguém tinha pena do Tojo
Se hoje esses quadrinhos nos parecem estranhos (quando não grotescos), a mensagem que passavam era extremamente popular. Diante da ameaça da guerra total, heróis que colocavam ditadores no seu lugar, colaboravam com a polícia e protegiam crianças era o que todos queriam ver.
A partir dos anos 1970, isso deixou de ser verdade.
Com o conflito no Vietnã, os americanos entenderam que a guerra nem sempre é para o “bem”, e que o combate é bem menos glorioso quando se está do lado perdedor. Com a Crise de Reféns no Irã e o Caso Watergate, o governo americano mostrou que podia errar e ser corrupto. A Crise do Petróleo jogou a economia para baixo, e a Guerra Fria trouxe o medo de um holocausto nuclear. Como confessou Frank Miller, “o mundo estava ficando louco”.
Desconfiadas da autoridade, as pessoas buscaram seus herois em outros lugares. Em Watchmen, Rorschach se recusa a abrir mão de seu código de conduta, mesmo que isso traga a promessa de paz mundial. Em O Retorno do Cavaleiro das Trevas, Batman prefere se tornar um criminoso a virar um novo Superman, um herói “do partido” que só luta as batalhas autorizadas pelo presidente.

Porém, a mudança mais impressionante foi a do maior ícone do bom-mocismo patriótico: o Capitão América. “Ressuscitado” em 1964, Steve Rogers se sente mais e mais decepcionado com os rumos da política. Em 1974, ele passa a combater o crime como o Nômade, um herói, como o nome já diz, sem pátria.
Seu momento definidor veio também das mãos de Frank Miller. Em Daredevil: Born Again, ele deixa claro que os Estados Unidos que defende são uma ideia, não um governo.

De campeões do sistema, os super-heróis viraram outsiders. O herói não é mais um role model para servir de exemplo aos jovens. Agora, ele segue o seu próprio caminho, apontando a hipocrisia nos outros e mostrando como a prática do “bem” passa longe de seu ideal.
É por isso que, em sua primeira história pós-11/9, o Capitão América não esmurra Bin Laden como antes fizera com Hitler. Em vez disso, ele visita Dresden, cidade alemã que foi obliterada por bombardeios aliados na Segunda Guerra. Longe de ser um fanático patriota, ele se lembra de todo o sangue que já foi derramado em nome da “justiça”.
É por isso que na Guerra Civil – uma alegoria do Patriot Act, lei americana que reduziu a proteção constitucional de civis em nome da luta contra o terrorismo – Steve Rogers se posiciona contra a ideologia de que a segurança é preferível à liberdade.
E é por isso que, no filme Soldado Invernal, ele se rebela contra a tentativa da SHIELD de se tornar uma “polícia global”. No longa, tudo é obra da Hydra. Na vida real, é preciso bem menos. Basta olhar para o escândalo de espionagem da NSA, cujos alvos incluíram até a Presidência brasileira.
Novas ideias, no entanto, demandam novos públicos. E para conquistar novos públicos é preciso novas formas de se vender quadrinhos. O que nos leva à segunda “mãe” dos anti-heróis
2- O surgimento das gibiterias

Como quem já se aventurou pela arte sabe muito bem, a distribuição é a alma de qualquer obra de sucesso.
Quando os quadrinhos de superheróis surgiram nos anos 1930, ninguém pensava em ganhar o prêmio Pullitzer ou em escrever o mesmo personagem por 70 anos. Os gibis eram vendidos em qualquer lugar por onde meninos perambulassem: bancas de jornal, lojas de brinquedo, farmácias e até docerias.
Como não havia garantia de que a criança voltaria a comprar o mesmo título, a ideia era prezar a quantidade sobre a qualidade. Cada HQ tinha um começo, meio e fim e eram feitas para o maior público possível, sem continuidade nem, muitas vezes, coerência. Para chamar a atenção, não era raro uma editora publicar histórias estapafúrdias. Ou o que era pior: histórias estapafúrdias repetidas.


Com o passar do tempo, esse modelo perdeu popularidade. Com o envelhecimento do público alvo, o fim dos vilões óbvios da Segunda Guerra e a pressão de moralistas (vide o próximo tópico), o número de vendas mensais caiu de 59,8 milhões em 1952 para 18,5 milhões em 1979.
Para o hobby não morrer, alguma coisa precisava mudar. A volta por cima veio com Phil Seuling, um fã de quadrinhos e criador da Comic Art Convention de Nova York. Seuling desenvolveu um sistema de distribuição baseado em lojas especializadas, dirigidas ao fã. Assim, nasciam as primeiras gibiterias.

Austin Books & Comics, no ramo desde 1977
Para os envolvidos, esse novo modelo (chamado de mercado direto) era muito mais interessante. Antes, gibis não vendidos eram devolvidos para os fornecedores, o que forçava as lojas a calcular bem a quantidade de HQs que achavam que venderiam (e, obviamente, não adquirir obras mais controversas). Na gibiteria, pelo contrário, números antigos simplesmente entravam para o catálogo.
Com menos risco, as editoras passaram a apostar em títulos mais trangressores. Não só isso, como produtores independentes finalmente conseguiram uma chance de entrar no mercado. O resultado foi um boom de histórias inovadoras e selos independentes capazes de rivalizar com a Marvel e DC.
Ao mesmo tempo, as gibiterias criaram uma “contracultura” dos quadrinhos, oferecendo espaço para fãs confraternizarem, montarem coleções e acompanharem artistas e personagens específicos. Pela primeira vez, a base do que se tornaria a “cena nerd” começou a ganhar força.
A capacidade de se enturmar com outros fãs e ficar “próximo” dos autores se mostraria fundamental para a sobrevivência do hobby. Isto porque, nessa mesma época, os quadrinhos se tornaram o campo de batalha de uma verdadeira guerra cultural.
1- A necessidade de chocar

Quem vê a truculência do Rorschach em Watchmen ou a lista de baixas do Justiceiro já percebe que os anti-heróis não estão de brincadeira. Muito menos os seus autores.
Se essas HQs parecem às vezes desnecessariamente cruéis, é porque a intenção foi de fato chocar. E, se uma geração inteira de artistas sentiu a necessidade de chacoalhar o público, é porque eles tinham um inimigo em comum.
Quando os quadrinhos de super-herói surgiram nos EUA, eles foram imediatamente alvo da perseguição de moralistas. A Igreja, os políticos, intelectuais e até médicos criaram a narrativa de que histórias em quadrinhos estimulavam a violência, atentavam contra a moral e desvirtuavam as crianças.
Nos casos mais extremos, entidades justiceiras organizaram mutirões para remover gibis do comércio e queimá-los em fogueiras.

Para os quadrinistas, a grande batalha foi “perdida” em 1954, com a publicação de A Sedução dos Inocentes, do psiquiatra Fredric Wertham. O livro dava um roupagem científica para a tese de que HQs eram uma influência ruim no desenvolvimento de crianças e se tornou a bíblia dos que buscavam proibi-las.
As evidências de Wertham eram completamente furadas, mas isso era irrelevante. Nos anos 1950, a delinquência juvenil se tornou um pânico moral. A Sedução dos Inocentes dizia aquilo que as pessoas queriam ouvir. Assim, se tornou uma sensação.
A consequência direta da repercussão foi a promulgação do Comics Code Authority, um código de conduta destinado a regular o conteúdo dos quadrinhos. A iniciativa foi obra da Comics Magazines Association of America (CMAA), um grupo de figurões da indústria que acreditou que uma auto-regulação mostraria a boa vontade do profissionais em aceitar as “críticas”. A alternativa seria uma censura oficial, o que enterraria as HQs de vez.
Num argumento ainda muito comum entre moralistas, o CCA dizia que os artistas tinham uma “responsabilidade” para a “cena cultural americana” e deviam “fazer uma contribuição positiva para a vida contemporânea”.
 Na prática, isso significava “purificar” quadrinhos de tudo o que fosse considerado ofensivo, perigoso ou de mau gosto. Estava banido o uso das palavras “terror” ou “horror” (Parte B, 1), violência excessiva (Parte B, 3), apologia ao crime (Parte A, 4 e 5), excesso de gírias (Parte C, 3), nudez e sensualidade (Costume, 1 a 4) e mesmo incentivo ao divórcio (Marriage and sex, 1).
Na prática, isso significava “purificar” quadrinhos de tudo o que fosse considerado ofensivo, perigoso ou de mau gosto. Estava banido o uso das palavras “terror” ou “horror” (Parte B, 1), violência excessiva (Parte B, 3), apologia ao crime (Parte A, 4 e 5), excesso de gírias (Parte C, 3), nudez e sensualidade (Costume, 1 a 4) e mesmo incentivo ao divórcio (Marriage and sex, 1).
Ninguém era obrigado a usar o selo, mas distribuidores se recusavam a vender HQs que não o tinham. Depois de meses de perseguição (e inclusive uma audiência pública no senado), ninguém queria ser visto como um defensor da delinquência juvenil.
Para os artistas, isso não foi apenas um “mundo ficando chato” : foi um desastre que por pouco não afundou toda a indústria de quadrinhos. Frank Miller, um dos “pais” indisputáveis dos anti-heróis, nos diz isso com todas as letras no prefácio de Batman: O Cavaleiro das Trevas:
Não vale a pena citar o nome daquele psiquiatra lunático ou de seu livro absolutamente desprezível. Há muito o mundo se esqueceu dos dois.
No pequeno universo dos quadrinhos, entretanto, aquele lixo de livro causou tanto estrago quanto um ciclope. Ou Galactus. As vendas caíram mais e mais. Por algum tempo, os artistas de HQs sequer revelavam sua profissão. Não em companhia de pessoas cultas.
Deus sabe que não abordávamos temas políticos.
Mas nós apenas parecíamos irrelevantes. Apenas parecíamos mortos.

Foi justamente o desejo de não ser irrelevante que motivou Miller e outros criadores (como Robert Crumb, Richard Corben e Neal Adams) a pisar nos calos. A partir dos anos 1970, com a popularização das convenções e o mercado direto, a cena de quadrinhos underground finalmente mostrou as suas garras.
Autores polêmicos agora sabiam que havia uma maneira de seus trabalhos chegarem aos fãs, com ou sem o selo de aprovação. Não demorou para as grandes editoras peitarem a CMAA, chegando, em casos extremos, a publicar gibis mesmo sem o aval do CCA.

Amazing Spider Man #96, que teve o selo negado por mostrar Harry Osborne em crise de abstinência.
A consequência foi uma geração de heróis (e vilões) complexos, inclementes e repletos de defeitos. O Justiceiro e o Motoqueiro Fantasma deram as caras pela primeira vez. O Homem de Ferro virou um alcóolatra. E o Batman se tornou o líder de uma gangue sanguinária, fazendo com as próprias mãos a justiça que faltava ao governo.
Os anti-heróis dos anos 1970 e 1980 não desafiavam só as normas de seus mundos fictícios. Eles eram, também, símbolo do desafio de seus próprios criadores, lutando para que as HQs tivessem o mesmo tratamento de filmes ou livros.

Esses artistas nunca deixaram de militar pela sua liberdade criativa. Em 1987, Alan Moore deixou a DC após a editora tentar implementar um sistema de classificação etária. Em 1997, Frank Miller, que nunca foi exemplo de sutileza, escreveu Tales to Offend.

O criador de Elektra não tem nenhum remorso pela postura “in your face”. Como ele disse em um depoimento, “tudo o que se colocar entre meu pincel e minha mesa de desenho é meu inimigo”.
Os anti-heróis nos dias de hoje
É curioso, mas nem um pouco surpreendente, que os anti-heróis façam tanto sucesso nos dias atuais. Em muitas aspectos, nossa geração tem várias coisas em comum com o universo dos anos 1970 e 1980 de onde eles surgiram.
Tal como há 30 anos, nossa época é marcada por um enorme niilismo político. De protestos nas ruas ao sucesso de candidatos implausíveis (veja apenas Trump nos EUA) há uma sensação generalizada de que o jogo está viciado, e que a resposta se encontra em outro lugar.
Tal como nos tempos de Phil Seuling, temos a nosso dispor uma imensidade de formas alternativas de produção e distribuição de quadrinhos: de serviços como o Comixology ao cenário do crowdfunding, da cena efervescente das fanzines aos webcomics. Os quadrinhos nunca foram tão diversos e acessíveis a tantas pessoas (leitores e criadores).
Tal como na época do CCA, pânicos morais continuam estourando na cena nerd, e a ideologia de que artistas têm uma “responsabilidade social” de produzir obras de bom gosto parece ter renascido das cinzas. O site da CBLDF, uma ONG dedicada à proteção da liberdade de expressão de quadrinistas, contém uma lista de obras que têm sido atacadas por moralistas nos últimos anos. Os títulos são surpreendentemente variados, e incluem desde Dragonball até Persépolis.
Qual será o futuro do nosso novo “culto ao anti-herói”, só o tempo nos dirá. Uma coisa, no entanto, podemos afirmar com certeza: se as nossas turbulências trouxerem novos gigantes do calibre de Miller, Moore, Crumb e Gaiman, estamos em boas mãos.





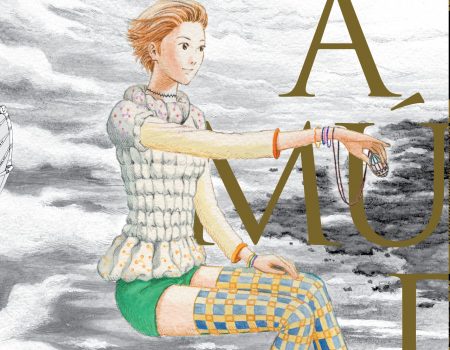








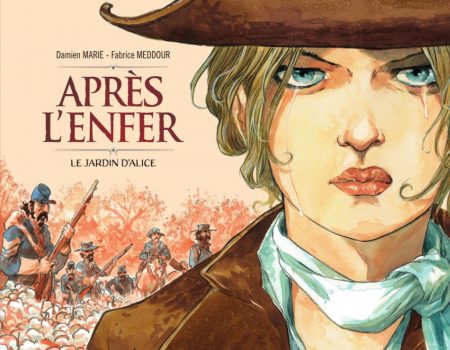




















Comentários
Pingback: O Japão de Frank Miller – finisgeekis
Pingback: “Jogador No. 1” e a vaidade da geração nerd – finisgeekis
Olá!
Primeiramente, parabéns pela matéria: muito interessante e pertinente a uma análise análoga à situação política atual.
Seguidamente, gostaria de saber as referências bibliográficas usadas para a produção deste conteúdo, a fim de pesquisar mais a fundo.
Desde já agradeço.
Atenciosamente,
Erick Vasconcelos, estudante de Design e Moda na UEMG.
Olá Erick.
As referências estão incorporadas no próprio texto como hiperlinks. O depoimento do Frank Miller foi publicado na edição definitiva de Cavaleiro das Trevas da Panini (a versão que inclui DK1 e DK2).
Abraço e boa pesquisa!