Não faz tanto tempo que a falta de criatividade de Hollywood e seu hábito de explorar franquias de sucesso era motivo de chacota. De Volta para o Futuro 2 ilustrou isso bem ao pintar um 2015 fictício em que Tubarão 19 chegava aos cinemas. O próprio filme se tornou vítima da “maldição” em seu terceiro capítulo, considerado por todos o mais fraco.

Não faz tanto tempo, de fato, que sequels eram tão mal vistas que apenas sobreviviam (e olhe lá) graças às locadoras. O Escorpião Rei, ele mesmo um spin-off de uma sequel de A Múmia, ganhou duas sequências próprias. Dr. Dolittle, sucesso de Eddie Murphy, bateu o recorde com QUATRO sequels, três das quais sem a participação do ator principal.

O caso está longe de ser o primeiro – ou o mais ridículo. Nem Psicose, obra-prima de Alfred Hitchcock, escapou da ganância dos produtores. Acredite ou não, o terror deu origem a uma franquia com o próprio nome.

Ao avançar a fita para os dias de hoje, no entanto, parece que o mundo virou de ponta cabeça. O que antes era visto com desprezo ou sarcasmo virou motivo de orgulho. Sequels, reboots, spin-offs, “sucessores espirituais” e todo tipo de continuação tornaram-se campeões de crítica e bilheteria.
Basta navegar alguns minutos em páginas nerds para encontrar imagens como a abaixo em meio a comentários efusivos de que “essa é a melhor época para estar vivo.”

Reparem que entre as listas dos “celebrados” estão até continuações de franquias zumbificadas (Piratas do Caribe) e de filmes malhados pela crítica (Alice no País das Maravilhas).
Em outras épocas, isso seria motivo de risada. Hoje, aplaudimos de pé. O que, afinal de contas, aconteceu?
Para responder a essa pergunta, é preciso voltar no tempo.
A história das sequels
Ao contrário do que dizem os puristas de plantão, não há nada de novo nas mal-faladas “modinhas”. Ryan Lambie encontra o “pecado” já na obra de George Mèlies, um dos primeiros cineastas. Seu Viagem ao Impossível nada mais seria do que uma tentativa de capitalizar em cima de seu filme mais conhecido, Viagem à Lua.

Dada a semelhança do cenário, é difícil negar
Conforme o cinema ganhou força – e os públicos aumentaram – a prática se tornou comum. Fundamental neste processo foi James Bond, uma das primeiras grandes franquias cinematográficas. Quando os livros de Ian Fleming acabaram, os produtores precisaram encontrar uma solução para sustentar o herói. A solução foram filmes sem uma cronologia específica, ambientados em um mesmo universo, com temas parecidos e um protagonista em comum. Desta forma, 007 foi também o pai improvável dos fillers do anime.
 A “era das sequels”, no entanto, não começou até os anos 1970. A década popularizou o hábito – que nos persegue até hoje – de empregar números nos títulos dos filmes.
A “era das sequels”, no entanto, não começou até os anos 1970. A década popularizou o hábito – que nos persegue até hoje – de empregar números nos títulos dos filmes.
A moda se espalhou depois do lançamento de O Poderoso Chefão 2, não apenas um lançamento de peso, mas uma das poucas sequências (até os dias de hoje) a ter se igualado ao original em qualidade.
Porém, nem todos são o Coppola, e a popularidade de O Poderoso Chefão trouxe mais lixo do que luxo. E não falo apenas de O Poderoso Chefão 3, mas daquilo que alguns críticos apelidaram de “sequels lixão”: tentativas despudoradas de “secar” uma franquia até que todo o glamour tenha sido monetizado.
A crítica de De Volta para o Futuro a Tubarão se encaixa aqui. Tubarão 4 foi um dos grandes exemplos de sequel-lixão, mas nem de longe o único: Superman 4 e Karate Kid 4 (que substituiu Daniel-san por uma ainda desconhecida Hillary Swank) competem no pódio.

E não vamos nem tocar nesse assunto
No entanto, o fundo do poço ainda estava para chegar. Ele viria com o formato direct-to-video, a criação de filmes de baixo orçamento feitos especificamente para o VHS – e, depois, o DVD. A ideia parecia maluca a princípio, mas passou na prova dos nove em 1994 com O Retorno de Jafar, sequel de Aladdin.
O filme foi tão “barato” que chegou a contratar outros dubladores e compositores. Todavia, ele faturou US$ 7 milhões no primeiro mês de venda, uma fortuna para os padrões dos anos 1990. O resultado foi uma verdadeira tradição de sequels obscuras dos maiores clássicos da Disney.

Já que estamos falando de fundos de poço, há aqui uma menção honrosa: filmes “forçados” a virar sequels de outros com os quais não têm nada a ver. O mercado de cinema é super competitivo, e muitas vezes estúdios compram roteiros muito parecidos. Para capitalizar com a bilheteria dos filmes de maior sucesso, mais de uma vez o título das obras foi mudado para dar a impressão de que se tratava de um spin-off.

Não seria isso tudo indício de que não há nada de novo sobre o sol? Que os críticos das sequels, militando por um passado perfeito em que Hollywood só tinha ideias originais, estão falando de uma época que nunca existiu? Em parte. Há, no entanto, uma diferença gritante.
As sequels nunca antes fizeram tanto dinheiro.
A vitória da repetição

Se antes sequels eram quase sempre relegadas a mercados de nicho, elas se tornaram as vacas leiteiras da indústria contemporânea. Jurassic World é o terceiro filme mais visto da história. Velozes e Furiosos 7 está na 5ª posição, Vingadores 2 na 6ª, e a sequel-da-sequel Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte II em 7º.
E isso sem contar O Despertar da Força, cujos números ainda não foram computados, mas que tem potencial para se tornar o filme mais visto da história.
Não se trata apenas de apelo com o público. Os críticos, também, passaram a amar o que antes odiavam. O ranking das sequels no Rotten Tomatoes fala por si só:

O que teria provocado a mudança? Algumas razões são óbvias. Estúdios se tornaram muito mais protetores com suas propriedades intelectuais e menos dispostos a estragar franquias com sequels-lixão. O sucesso de O Senhor dos Anéis e Harry Potter – incluindo a avalanche de Oscars para O Retorno do Rei – mostrou que sequels entregam no grande circuíto. Com o universo cinemático da Marvel, a habilidade de cineastas de lidar com histórias paralelas cresceu. Em suma, as sequels simplesmente ficaram melhores.
Mesmo assim, acredito que haja uma outra razão, muito mais profunda. E que diz respeito não apenas à qualidade dos filmes, mas a nós mesmos como pessoas.
O medo do novo

Em um texto intitulado As Sequels e a Morte da Novidade, o comentarista de games Shamus Young fez uma crítica pesada às sequências no mundo dos jogos. Para ele, a dependência em continuações acabou com a magia da descoberta.
O exemplo que dá é o de Fallout. No primeiro game, o jogador, encarnando uma personagem que viveu a vida toda sob a terra, precisa desbravar um mundo desconhecido. Do tutorial até os créditos finais, tudo o que via era novo, maravilhoso, amedrontador.
Uma sociedade em que tampinhas de refrigerante se tornaram moeda de troca. Uma seita semi-religiosa que luta para proteger a tecnologia perdida no apocalipse. Escorpiões gigantes, modificados pela radiação das bombas nucleares. Uma criatura poderosíssima e misteriosa chamada Deathclaw.
Porém, após mais de 5 sequels, o que antes era um mundo paralelo tornou-se um playground. Os elementos icônicos viraram presença garantida, de maneira que um jogador veterano já sabe o que vai encontrar antes mesmo de ligar o monitor.
A descoberta se tornou uma lista de compras, em que “ticamos” os itens na hora em que aparecem. No caso de Fallout 4, nem é preciso esperar muito: tudo o que há de clássico na série é introduzido na missão inicial.
Young falava de jogos, mas o mesmo vale para o cinema. Sob a bandeira da “nostalgia” ou do “respeito aos clássicos”, as sequels de hoje em dia oferecem meras “lista de compras” indicando os momentos em que devemos dar gritinhos de alegria no cinema.
(aqueles que não assistiram a’O Despertar da Força e que não querem SPOILERS, pulem para a próxima seção.)
O Despertar da Força é uma verdadeira lição desse cinema “lista de compras”. Luke, Leia e Han? Conferem. Planeta deserto? Confere. Estrela da Morte? Confere. Base Rebelde em planeta tropical? Confere. CP30 e R2 D2? Confere. Tie Fighters e X-Wings? Conferem Almirante Ackbar? Confere. Sullustano genérico de O Retorno de Jedi? Confere. Tal como Fallout 4, o filme não entrega nada que já não tenha sido feito em outro lugar – e melhor, dirão alguns.
O fato é que o filme – e tantos outros que seguem a mesma fórmula – são um sucesso absoluto. Fãs internet afora o defendem dizendo que a “lista de compras” é o exato motivo que os leva a assistir Star Wars. Cada revelação da película levou os espectadores à polvorosa nos cinemas. Críticos o amaram. E a Disney, já antecipando o sucesso, disse que pretende manter o trem do saudosismo para todo o sempre. É isso mesmo. Star Wars será a “franquia eterna”.
Não se trata apenas do “mais do mesmo”. Pelo contrário, há uma vontade disseminada de que as coisas parem de mudar.
O presente que nunca acaba

Se digo que vejo um motivo escondido por trás disso, é porque historiadores já notaram a mesma coisa em outros contextos: Nossa época, mais do que qualquer outra, tem um enorme medo da mudança.
Para esses estudiosos, tudo começou por volta dos anos 1980. Com o progresso tecnológico e todas as reviravoltas do final do século XX, ganhou força a impressão de que vivíamos em tempos de incerteza.
O mundo mudava tão rápido que se tornou impossível de acompanhar. Um país poderoso podia tombar em uma crise da noite para o dia. Uma moeda podia perder todo o seu valor. Nossa profissão podia deixar de existir antes mesmo de terminarmos a faculdade, substituída por outra que ainda não fora inventada. Uma nova tecnologia podia mudar a forma como nos relacionamos, levar uma indústria inteira à falência ou extingir veículos inteiros de comunicação.


O resultado foi a sensação de que não temos mais controle sobre nossas próprias vidas. Que o mundo se tornou tão incerto, complexo e imprevisível que fatos aleatórios podem alterar completamente nosso rumo. A ideia de que indivíduos podem mudar uma sociedade inteira perdeu força. O efeito borboleta tornou-se a palavra da vez
Tudo isso, obviamente, trouxe angústia. Como disse certa vez Roger Ebert, é humilhante saber que a existência não gira ao redor do nosso umbigo. Pior ainda é descobrir que ela não gira em volta de nada. Que estamos todos à mercê do acaso, da “conjuntura global”, de um zilhão de fenômenos que não entendemos, mas que podem mudar tudo à nossa volta em um piscar de olhos.
 Para alguns historiadores, isso deu origem ao “presentismo”. Trata-se da fé de que agora a mudança acabou, que chegamos finalmente no fim da história, que nossa civilização é a última e que descobrimos a grande verdade. Por consequência, a fé de que por mais que as coisas mudem daqui para a frente, elas sempre continuarão as mesmas.
Para alguns historiadores, isso deu origem ao “presentismo”. Trata-se da fé de que agora a mudança acabou, que chegamos finalmente no fim da história, que nossa civilização é a última e que descobrimos a grande verdade. Por consequência, a fé de que por mais que as coisas mudem daqui para a frente, elas sempre continuarão as mesmas.
No presentismo, não há “futuro”, há apenas variações do presente. Nossa infância é A Infância, que continuará sempre a mesma porque ensinaremos nossos filhos a ser como nós. Os Anos Noventa nunca acabarão, pois nós continuaremos assistindo às mesmas coisas, já que temos o poder de repeti-las para sempre. Ao decretar que nós “não viveremos para ver o fim de Star Wars”, a nova diretora da Lucasfilm não disse apenas que vai preservar a franquia: ela prometeu controlar o futuro.
No presentismo, também não existe “passado”, apenas “presentes” imperfeitos. Existem os valores certos, que são os nossos, e os errados, que são os “ultrapassados”. Nós vencemos porque estamos do “lado certo da história”; os outros perderam – ou precisam perder – porque se recusam a “evoluir”.
Não existem problemas contemporâneos: tudo o que há de ruim na face da Terra são “resquícios” de um passado horroroso que custa a morrer. “Os tempos mudaram” diz o presentista, “Se não gostou, volte para o passado.” A idéia de que pontos de vista diferentes podem habitar uma mesma época não é mais levada em conta.
No mundo do entretenimento, o saldo são visões de um futuro que nada mais fazem do que “celebrar” um presente saudoso. Ou então visões da história que “modernizam” o passado, ou que enviam até ele um herói contemporâneo, para que ele nos mostre quão horrível era a vida antes do “presente” acontecer.
Daí também o hábito, que já pega força entre os críticos brasileiros, de usar “atual” e “contemporâneo” como elogios. Refletir o “nosso tempo” nunca rendeu tantas estrelinhas nos guias de cinema.
E quando o “presente” acabar?

Steven Spielberg recentemente causou polêmica ao dizer que os filmes de super heróis estão com os dias contados. Nenhum ciclo criativo dura para sempre, ele disse, por mais que queiramos acreditar no contrário. O cinema western um dia dominou Hollywood inteira, mas hoje é um gênero de nicho. Para o diretor de E.T., é quase certo que o mesmo aconteça com o Capitão América e os X-Men.
Spielberg não deu um exemplo qualquer. O western não se tornou o gênero dominante só por causa do talento de John Ford ou da popularidade de John Wayne. O cinema de faroeste encarnava valores de sua época – o individualismo do cowboy, a selvageria da fronteira, o perigo dos índios – que pararam de ressonar com o público.
Erra quem pensa que o nosso cinema é mais “neutro” do que os clássicos dos anos 1950. A diferença é que ele carrega valores com os quais (pelo menos por enquanto) nós concordamos.
O problema é que, tal como tempo dos cowboys, o nosso também vai acabar. E O Despertar da Força, hoje queridinho da crítica, público e ideólogos de Facebook, soará tão “errado” quanto Rastros de Ódio.
Quando isso acontecer, é bom torcermos para que o futuro seja mais tolerante com a gente do que nós somos com aqueles que nos precederam. Afinal de contas, como nos ensinou um certo filme, “nós podemos romper com o passado, mas o passado nunca rompe conosco.”





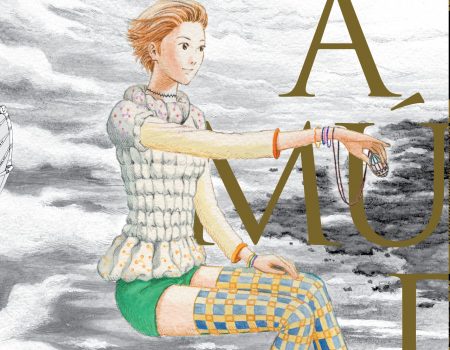








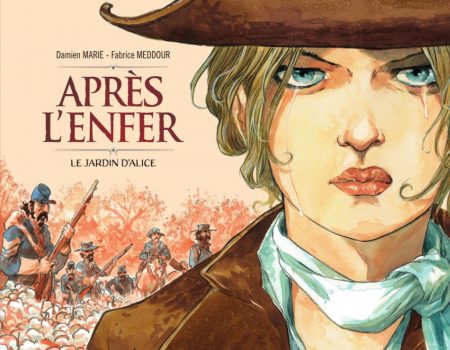

















Comentários